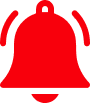A ideia de pôr as universidades ao serviço da competição económica iniciou o seu caminho nos Estados Unidos da América. As universidades americanas foram cada vez mais reproduzindo os mecanismos de funcionamento dos sectores comercial e industrial: concentração de recursos num pequeno número de grandes universidades de investigação, a participação de altos quadros de grandes empresas na gestão das universidades, a adoção de mecanismos de mercado no recrutamento de alunos e docentes e no próprio financiamento das instituições. Do ponto de vista económico este processo trouxe grandes benefícios aos EUA. As universidades americanas tornaram-se o berço de um sem número de empresas inovadoras que criaram novas técnicas, novos produtos e novos mercados. A Genentech (biotecnologia) e a Lycos (internet) são alguns exemplos. Criaram também no seu interior um ambiente de “empreendedorismo” que resulta na formação de milhares de empresas por parte dos estudantes embora a atividade destas não se apoie necessariamente em tecnologia desenvolvida na universidade (o facebook é talvez o exemplo mais conhecido).
A União Europeia não quis ficar para trás e através da Estratégia de Lisboa (uma espécie de plano quinquenal do neoliberalismo) abraçou um desafio: “Fazer da União Europeia a economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, antes de 2010, capaz de um crescimento económico duradouro acompanhado por uma melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e uma maior coesão social”. Um claro programa para a competição económica com os Estados Unidos e sob todos os pontos de vista um notável falhanço mas que no entanto pôs em marcha uma reforma radical das universidades com o objetivo de erradicar a tradicional homogeneidade que caracterizava as cerca de 4000 instituições de ensino superior (público) europeias.
Este grande projeto de pôr as universidades europeias ao serviço da competição económica tem dois pontos de sustentação. Por um lado um processo legislativo que erradica a democracia interna nas instituições, permite a participação de membros externos (leia-se empresários) na gestão, a adoção de mecanismos de gestão privada como as fundações fundações e a possibilidade de cisão ou fusão de instituições. Em Portugal esse processo assumiu a forma do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES) e dos estatutos das carreiras docentes do universitário e do politécnico. Por outro lado a verdadeira força motriz da reforma: os cortes orçamentais e o financiamento competitivo. Enquadrando este processo à escala global ganharam cada vez mais protagonismo os rankings de universidades que basicamente ordenam as universidades de acordo com o seu sucesso na adesão ao paradigma neoliberal.
Mas concentremo-nos nas fusões. Elas são vistas como um processo que permite às instituições ganhar escala, ter mais estudantes e mais recursos de investigação, reforçar a interdisciplinariedade e assim aumentar a sua capacidade competitiva para atrair financiamentos públicos e privados numa época de severos cortes orçamentais. O financiamento competitivo faz o resto ao concentrar o dinheiro público e privado naquelas que têm maior infraestrutura de investigação já instalada. Espera-se que de tudo isto surja uma relação mais forte com o mundo empresarial que possa contribuir para a renovação do tecido produtivo existente e aumentar a competitividade.
Parece uma reforma atraente e será recebida com entusiasmo ou com indiferença pela maior parte dos docentes e investigadores, cansado das pequenas intrigas de corredor e das manobras dos tiranetes em que se dissipam tantas das energias das nossas universidades. E depois quem não gostaria de trabalhar numa universidade de renome mundial com laboratórios de investigação de ponta?
A questão é como escalar esses píncaros da excelência? Tenhamos em mente o propósito muito claramente enunciado de fazer da nova Universidade de Lisboa uma das 100 melhores universidades do mundo. Não há nada de subjetivo nesta afirmação, existe um e apenas um critério que define o que é estar entre os melhores e esse é o critério dos rankings. O grande objetivo da nova universidade é portanto entrar numa corrida. Uma corrida em que obviamente não estará sozinha. Sarkozy anunciou no passado a sua intenção de ter 10 universidades francesas entre as 100 melhores e começou um programa de financiamento extraordinário de 17 clusters universitários. A Iniciativa para a Excelência na Alemanha fez uma seleção competitiva de instituições que recebem do estado milhares de milhões euros de receitas extraordinárias para aumentar a sua competitividade. Na Finlândia o número de universidades passou de 20 para 15 nos últimos anos através de um processo de fusões. Na Dinamarca um processo semelhante reduziu o número de universidades e institutos de investigação de 25 para 8 nos últimos 5 anos.
Não se pretende com esta análise criticar a louvável ambição de fazer investigação de alto nível e ter cursos de qualidade. A questão aqui é que todas as corridas têm regras e as desta corrida são infelizmente as do neoliberalismo. Vejamos um exemplo. As Universidades que figuram no top ten dos rankings (8 americanas e duas britânicas) têm individualmente orçamentos superiores ao orçamento do conjunto das universidades públicas portuguesas. Isto só é possível porque as universidades do top ten atraem quantias muito avultadas de investimento empresarial ou seja, um dos grandes pilares do sucesso é a relevância da universidade para o mercado. Para os defensores do neoliberalismo o que é bom para o mercado é bom para a sociedade mas esta é uma perspetiva com que discordamos radicalmente e que nos remete para a questão da função social da universidade (este problema é tratada noutro texto). Outra questão é a da manutenção de elevados níveis de produtividade científica. Nas melhores universidades o trabalho dos laboratórios estará certamente organizado de forma mais eficiente, mas uma boa parte da produtividade está assente na precariedade dos cientistas de cujo número de publicações depende a possibilidade de no futuro conseguir mais um contrato a prazo. Para aqueles que têm um vínculo permanente com as instituições existem mecanismos de avaliação punitivos que soterram em serviço docente aqueles que falham as metas das publicações e que no limite levam ao despedimento. De relembrar aqui que o Ministério da Educação e Ciência anunciou recentemente o fim da investigação como carreira. Os investigadores trabalharão com contratos de 5 anos ao fim dos quais terão que apresentar nova candidatura, em concurso internacional, à posição que ocupam. Estes instrumentos de terrorismo laboral são conhecidos nos meios académicos como “promoção da excelência”.
Há no entanto um aspeto bem mais sinistro na reforma neoliberal das universidades que é o da apropriação do conhecimento científico e do ensino de qualidade pelas classes dominantes. Mais uma vez o exemplo americano é elucidativo. O sistema de ensino superior é constituído por algumas dezenas de research universitiesque concentram o grosso do financiamento (muito dele privado como já foi referido), contratam os melhores professores e investigadores, têm os melhores laboratórios, bibliotecas e salas de aulas e cobram propinas elevadíssimas pela frequência dos seus cursos. A propina de licenciatura em Harvard, a universidade que ocupa o primeiro lugar dos rankings mundiais, anda pelos 28 000 euros anuais. O reverso da medalha é uma rede de milhares de teaching universities, a maior parte enquadrada nos community colleges, onde não se faz investigação e com cursos superiores destinados à formação dos proletários modernos: professores do ensino secundário, bancários, comerciais, administrativos etc. Em Portugal, um dos países da Europa em que é mais forte a correlação entre nível sócio-económico e sucesso escolar, os efeitos seriam dramáticos. Talvez não seja uma especulação demasiado ousada imaginar que dentro de alguns anos serão as próprias universidades públicas de sucesso a exigir uma liberalização das propinas para poderem adequar o preço à qualidade do produto.
A anunciada fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa insere-se na reforma acima descrita, e que a a sua lógica de funcionamento está ferreamente amarrada a esta dinâmica internacional independentemente do discurso progressista em que as reitorias embrulham o processo. Merece por isso a máxima atenção e capacidade crítica de todos aqueles que dentro e fora da universidade estão empenhados na defesa do estado social.
No aspeto mais imediato não nos esqueçamos que a fusão se vai dar num período de profunda crise económica em que os apelos à racionalização, o ataque ao emprego e às condições de trabalho são fortíssimos. A nova universidade não vai ser imune a nada disto e o facto de existirem inúmeras coincidências e sobreposições ao nível da oferta educativa não será esquecido pelos seus responsáveis. Numa fase inicial as reitorias prometem o mundo a todos para tentar consumar a fusão com alguma tranquilidade. Só depois de o processo estar concluído é que o maravilhoso mundo novo da universidade neoliberal se irá revelar no seu esplendor. Reagir só nessa altura poderá ser tarde demais.
Artigo de Rui Borges
Este artigo é um contributo para o plenário do núcleo de Ciência, Ensino Superior e Investigação Científica do Bloco de Esquerda (NESIC) que terá lugar no próximo dia 23 de Maio pelas 21 horas, na sede da Rua de S. Bento, nº 698, Lisboa.