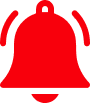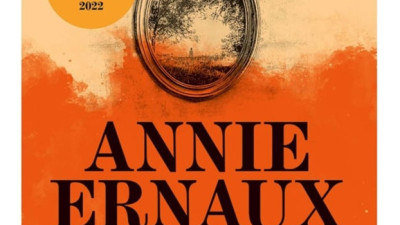Com as plataformas digitais a servir de instrumento ao serviço da direita, a disputa pela atenção torna-se uma prioridade para a esquerda. Mas é um campo desnivelado desde que Zuckerberg, Musk e companhias prestaram vassalagem a Trump. Já o era antes, aliás, os impérios dos mass media sempre tiveram peso político, de Rupert Murdoch a Francisco Pinto Balsemão.
Yves Citton é professor de Literatura e Media na Universidade Paris 8 Vincennes-Saint Denis e co-diretor da revista Multitudes. Publicou vários livros sobre a relação entre comunicação em política como Médiarchie e The Ecology of Attention. Esteve em Portugal para participar na conferência Cadências, Movimentos de Atenção nas Artes e no Quotidiano, dinamizada pelo ICNova, numa sessão na Culturgest.
Em entrevista ao Esquerda.net, fala sobre o enquadramento político da direita numa nova realidade de reação aos avanços da esquerda e retrata um “terreno inclinado” na disputa política. Discute também a atenção na atual esfera de comunicação e reflete sobre os problemas de discurso da esquerda.
Falas de um movimento para a direita que é ancorado na estrutura dos meios de comunicação social. A extrema-direita já tem destaque há muito tempo, mas Trump só ganha as primeiras eleições em 2016. Em que período temporal encaixas esse movimento?
A primeira coisa que faria seria dar um passo atrás e enquadrar isso no momento civilizacional em que vivemos, que eu acho que é o dos últimos 50 anos. Se analisarmos do ponto de vista da esquerda, a partir dos anos 70 tivemos muitas vitórias. Desde o maio de 68, aos direitos civis, direitos das mulheres, em termos de denúncia do colonialismo, denúncia da discriminação racial. Acho que perdemos isso de vista. Pensamos apenas: “Oh, estamos sempre a ser derrotados, a direita está a ganhar tudo”. Mas é importante perceber que, de certa forma, estamos a ganhar. Não nos apercebemos disso, mas em muitas frentes estamos a ganhar. Não devemos subestimar isso. Acho que devemos ver o que está a acontecer como uma reação. Uma reação muito perigosa a algumas vitórias e a mudanças muito importantes e profundas na perceção das pessoas, no seu julgamento sobre o que é uma mulher, o que é um homem, até mesmo sobre a natureza.
Mas essa reação colocou a esquerda numa posição difícil.
Sim. Nós na esquerda ecológica e social estamos numa situação muito difícil porque estamos a perceber que as nossas indústrias, as nossas economias, o nosso poder político a nível internacional, têm sido extrativistas e insustentáveis em termos de recursos. Entendemos que precisamos de novos valores, de novos sistemas económicos, precisamos de muitas coisas novas. Precisamos de inventar coisas num curto espaço de tempo, porque estas são mudanças realmente importantes, mudanças sociais, mudanças de valores, mudanças filosóficas, mudanças de sensibilidade. E temos muito pouco tempo para elaborar um novo discurso sobre isso, uma nova retórica, algo novo que seja convincente. Entretanto, a direita reacionária defende coisas que compreendemos. O que é um indivíduo? O que é a liberdade? Liberdade em termos de individualidade. Quero ser dono da minha propriedade. Quero comprar o meu carro. É reacionário porque volta ao que eu chamaria de indivíduo autónomo.
O teu último livro chama-se La Machine à Faire Gagner les Droites (A máquina vencedora da direita). É uma tentativa de explicar essa reação?
Em França, há um político que acabou de ganhar a presidência dos Republicanos, chamado Bruno Retailleau. Uma das coisas que ele dizia quando estava a fazer a campanha para ser eleito era: “La France pense à droite”. Os franceses pensam à direita. Mas em francês isso é um trocadilho, porque “penser” significa “pensar”, mas também “inclinar-se”. Portanto, a França “inclina-se para a direita”. A minha interpretação é precisamente esta. Como se jogássemos um jogo de futebol, mas com um campo inclinado. E fosse muito mais fácil marcar quando se joga em declive. Acho que parte desse declive é apenas a situação histórica da esquerda ecológica, termos de reinventar valores diferentes que são complexos, e não temos soluções.
Quando dizes que não temos soluções, achas que a agenda tradicional da esquerda está gasta?
Não conheço ninguém na esquerda que tenha uma solução para alguns temas. Na imigração, queremos acolher os migrantes. Não podemos deixar toda a gente vir para cá, e não é como se toda a gente viesse para cá. Mas acho que muitas pessoas querem vir para cá por boas razões, porque a nossa vida é mais fácil, por razões ecológicas, por questões sociais, etc. Precisamos de desenvolver uma linguagem que não diga “não precisamos de acolher tanto”, e acho que é importante acolher, mas mais do que acolher, precisamos de um discurso de partilha. Temos extraído e explorado recursos de todo o mundo para os levar para a Europa, para os EUA, etc. Não temos esse vocabulário de partilha. Se fores a uma palestra e disseres: “Pessoal, temos de partilhar a nossa riqueza”, ninguém vai votar em ti.

Esse discurso não funciona porque muita gente, mesmo na Europa, já vive na pobreza.
Exatamente. Essa foi a grande viragem. Então, porque é que o terreno está inclinado à direita? Acho que aí podemos entrar na análise aos media. Quem é dono dos media, como é que funciona. Mas, essa reação está ancorada nas vitórias da esquerda. As lutas feministas, a luta antirracista, em questões como a deficiência ou ecológicas. Nos EUA, Trump é contra a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI). E acho que a esquerda tem feito avanços na diversidade, equidade e inclusão de género e raça, mas não na classe. E muitos dos discursos agora identificados com a esquerda não são diversificados, não são inclusivos e não são igualitários em termos de classe. É um paradoxo, porque a esquerda tinha a classe no seu cerne.
Qual achas que é o caminho certo à esquerda, então? Há várias tentativas desse “regresso à classe”, por exemplo na Alemanha, que não funcionaram.
Quando digo classe, estou a referir-me a algo que considero dramaticamente subdesenvolvido, mesmo na antiga conceção marxista. Porque quando pensamos em classe, pensamos na classe trabalhadora e na burguesia. É um bom começo, mas agora é muito mais complexo. Por exemplo, em francês temos duas palavras para falar de empresas. Uma para as pequenas empresas, que estão sujeitas ao mercado, e outra para as grandes multinacionais. Uma realidade não tem nada a ver com a outra, mas aceitamos um discurso que diz: “Ou é o Estado, ou são cooperativas, ou é uma empresa”. Isso é uma treta. Precisamos realmente de ver se trabalhas numa pequena empresa ou para uma grande multinacional, se és precário, se és assalariado, se és subcontratado, etc. Desenvolvemos isso um pouco na sociologia, mas não traduzimos isso num discurso que permita dizer às pessoas que estão a sofrer e não deveriam sofrer assim. Nas universidades, e não sei como é em Portugal, mas acho que projetamos um discurso que está em grande parte desconectado da vida social ou das classes sociais. E isso desacredita muito a agenda da esquerda.
Oligarquia
O capitalismo está a mudar, mas não para um “neofeudalismo”
David Addison e Merle Eisenberg
Essa ideia de conexão com a vida social, a extrema-direita tem-na conseguido avançar através de um discurso antissistema, não? Aliás, esse próprio discurso serve para atacar as universidades.
Sim. O autor argentino Pablo Stefanoni publicou um livro que se chama ¿La rebeldía se volvió de derechas? (A rebelião tornou-se de direita?), no qual analisa como neste momento, o tipo de atitude rebelde que era dos estudantes de esquerda, está na direita. E como nós na esquerda nos tornámos conservadores. Defendemos o Estado social, e temos de o fazer. Mas somos conservadores no sentido em que defendemos o que existe e não estamos prontos para questionar fundamentalmente a ordem do mundo para trazer algo melhor, porque não sabemos como poderia ser melhor. O facto de a rebeldia ser agora uma característica da direita, acho que pode atrair muitos jovens que são contra o sistema. E, de certa forma, sinto que sou muito mais contra o sistema com as minhas crenças na ecologia, nas cooperativas e assim por diante, mas é preciso muito tempo para explicar o que quero para a sociedade. Enquanto isso, basta dizer: “Olhem para todos estes políticos, são todos corruptos. Olhem para todos estes professores universitários, ganham salários exorbitantes”. É muito fácil denunciar os problemas reais e torná-los engraçados. Porque em muitos aspetos, todos somos ridículos. Mas nós somos e não percebemos o quão ridículos somos. Enquanto eles insistem nisso. Antigamente, as pessoas riam-se da esquerda e mostravam como os outros eram ridículos. Mas agora, em vez de rirmos, choramos. Acho que isso é uma grande parte do problema.
Mas não achas que existem partidos ou movimentos de esquerda, anticapitalistas, que apostaram nesta ideia de rebelião e até mesmo de descontentamento social de um ponto de vista externo? Estou a pensar na França Insubmissa, por exemplo.
Claramente, eles chamam-se insubmissos por isso mesmo. Mas, para mim, a rebeldia tem estado do lado dos direitos dos homossexuais e das feministas há algum tempo. Os movimentos que conquistaram as vitórias que tivemos da esquerda foram movimentos que usaram o espetáculo, que usaram o humor. Porque eram uma minoria, eram oprimidos, e essa era uma maneira de o fazer. Quando digo que grande parte da esquerda se tornou conservadora, é porque os socialistas estão no poder há décadas. É claro que, quando se está no poder, não se vai gozar com tudo, vai-se agarrar ao poder e ter medo de quaisquer mudanças e assim por diante. Faz parte das vitórias, pelo menos das vitórias eleitorais de uma certa esquerda que agora se tornou conservadora. O drama hoje é que não conseguimos unir grandes movimentos à esquerda da esquerda, porque é isso que deveria acontecer. Em vez disso, essas pessoas que poderiam estar insatisfeitas com a situação política, com muitas coisas, acabam a ser capturadas por uma linguagem da direita que é reacionária.
Em Portugal, o partido da extrema-direita é o que tem mais cobertura mediática. Essa rebeldia que defendes que passou à direita é um dos fatores que lhes dá mais tempo de antena?
É um sistema complicado, mas acho que não é tão complicado a ponto de não o podermos entender. Nos estudos de comunicação, existe uma coisa a que chamamos de “saliências”. É algo a que não se pode deixar de prestar atenção. Por exemplo, um alarme, um carro de bombeiros, uma explosão. Esta categoria é bastante importante. Algo entra no teu campo de perceção e, seja porque é muito barulhento, porque explode ou devido ao seu conteúdo, tu notas. E a extrema-direita usa isso. Para além disso, vivemos num mundo de comunicação onde a proporção do que é financiado pela mercantilização da atenção tem aumentado progressivamente. Isto é, um meio de comunicação fornece conteúdo, mas financia o fornecimento de conteúdo ao vender atenção. Portanto, cada vez mais a atenção é mercantilizada. Em termos dos media, não só as revistas, mas as televisões privadas e até a televisão pública, dependem da publicidade, então têm interesse em ter muita atenção para vender.
Habitação
"A propriedade é um obstáculo à satisfação dos direitos fundamentais". Entrevista a Pierre Cretóis
Estou a pensar no caso dos ativistas climáticos que atiram sopa às pinturas. Também é uma “saliência”, mas os seus efeitos são controversos. Na minha opinião, prejudiciais. Isso significa que é preciso um enquadramento político ou tático para fazer essas saliências funcionarem a nosso favor, não?
Mais uma vez, eu diria que é sempre um campo inclinado. A direita nem precisa de atirar coisas às pinturas porque há idiotas que atacam pessoas nas ruas e servem para fazer generalizações. Mas para mim, o problema da esquerda é não se ter desenvolvido. Uma coisa é desenvolver um sistema e um programa político. Mas há também uma retórica que deve ser desenvolvida. Acho que, de certa forma, é mais fácil desenvolver uma retórica do que desenvolver um programa político completo. De qualquer forma, a direita não tem um programa completo. O programa deles é ridículo. Não estão a enfrentar as questões da ecologia e estão a ganhar por não o fazer. Quando olhamos para a campanha eleitoral nos EUA, as pessoas não são eleitas com base num programa. Nem Kamala Harris nem Trump tinham um programa. É pura retórica e narrativa.
Mas como é que se desenvolve essa narrativa neste contexto, em que é cada vez mais difícil capitalizar sobre as coisas que acontecem?
Há dez anos, na televisão francesa, havia programas sobre alterações climáticas às 23h e apenas nos canais culturais ou de ciências sociais. Agora, sempre que há uma inundação nalgum lugar, sempre que há um incêndio florestal, as pessoas dizem: “Isto aconteceu e sabemos que é resultado das alterações climáticas”. Isso é fantástico. Quer dizer que mudou e acho que está a mudar a nossa mentalidade, porque se tornou um reflexo dizer que não é apenas um problema local de meteorologia, é um problema climático. Precisamos de articular essas coisas primeiro, para multiplicar as coisas óbvias que mostram que a agenda da direita não é sustentável. Acho que podemos trabalhar mais nisso. Depois, precisamos de ter argumentos suficientes. Não é preciso um sistema teológico completo, mas apenas alguns argumentos para dizer: “Oh, se isso não é aceitável, o que fazemos?”.
Gostava também de abordar a mudança dos media de massas para as redes sociais, especificamente do ponto de vista da atenção. O modelo das plataformas digitais e dos consumidores-produtores é mais democrático? Mesmo se possibilitando notícias falsas como forma de ataque à atenção?
Isso é muito interessante. Há um filósofo chamado Vilém Flusser, que era de origem checoslovaca e foi perseguido pelos nazis. Para mim era o pensador mais importante do estudo dos media. Ele tem um artigo de 1973 onde denuncia a paródia da democracia. Porque havia um centro de mass media que decidia o que toda a França ia ver. Ou seja, alguém decide o que toda a França vai ver como notícia do dia. E as pessoas nem sequer podiam responder. Flusser disse que a democracia começaria no dia em que inventássemos algo como um ecrã de TV, que também pudesse ser uma câmara e um telefone, porque com o telefone podemos falar, responder e ouvir. E eu acho que ele estava fundamentalmente correto. Este modelo de produtor-consumidor descentralizado permite que alguém na rua em Michigan, onde um homem negro está a ser assassinado pela polícia, filme o que se passa e coloque nas redes. E milhões de pessoas vão para a rua e manifestam-se. Isso é um poder enorme. Então, em termos de tecnologia, temos os meios para uma verdadeira democracia de baixo para cima. Mas assim que a desenvolvemos, o capitalismo de plataforma passou a capturá-la. E há outro fator complexo que é a temporalidade. É diferente termos programas de televisão de meia hora, onde há debates, ou termos um TikTok de 10 segundos.
Sobre a estrutura dos media na democracia, desenvolveste o concerto de médiarchie. Podes explicá-lo à luz da dominação da tecno-oligarquia de Musk, Bezos, Zuckerberg, e companhia?
É um conceito que acho que ajuda a analisar o que Musk está a fazer com o X ou o que a Bolloré está a fazer em França. É a velha sociologia dos media: quem é o dono e onde está? Mas é muito mais teórico e abstrato, de certa forma. É para dizer que é um erro pensar que vivemos em democracias, porque quando pensamos que vivemos em democracias, vemos indivíduos que têm ideias, como eu estava a dizer anteriormente. Mas o que temos é apenas ignorância e ofuscação. Não acho que seja algo isolado, acho que é o resultado daquilo a que estou exposto em termos de imagens, histórias, notícias, consumo. Falar sobre médiarchie é dizer que existe essa camada de interface entre mim, como eleitor, e o mundo, que se chama media. O que elege um presidente não é o povo, são os públicos. São o agente da política democrática. Mas não temos apenas uma ágora no centro de Lisboa, onde todos se reúnem e dizem: “Quero isto, quero aquilo”, onde estamos todos no mesmo lugar e cada um pode ter uma voz. Temos um público muito fragmentado. Isso sempre existiu. É por isso que devemos falar de públicos. Claro que existem indivíduos, mas ninguém é politicamente relevante como indivíduo. É politicamente relevante, eu acho, como membro deste ou daquele público.