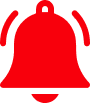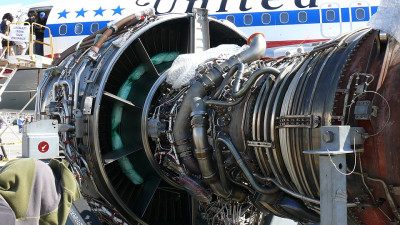A escalada de Donald Trump parece estar a colocar Pequim numa posição cada vez mais belicosa. Na segunda-feira, 7 de abril, em plena crise financeira, o Presidente dos Estados Unidos anunciou que tencionava tributar em mais 50% os produtos chineses que entrassem no seu país, a partir de quarta-feira, 9 de abril, se a China não baixasse a sobretaxa de 34% decidida como resposta aos seus anúncios iniciais de 2 de abril.
Durante o seu “espetáculo” de quarta-feira passada, Donald Trump tinha preparado um tratamento especial para a China, com uma sobretaxa de 34% que se juntava aos 20% anunciados desde a sua tomada de posse. Estas tarifas vêm juntar-se às que foram introduzidas durante o seu primeiro mandato, entre 2018 e 2022, e que não tinham sido abolidas pela administração democrata.
Segundo estimativas do banco americano Citi, a taxa efetiva dos direitos aduaneiros sobre os produtos chineses que chegam aos Estados Unidos é atualmente de 65%, contra 20% durante o mandato do presidente Biden. Se a sobretaxa anunciada por Donald Trump a 7 de abril se concretizar, esta taxa aumentará para 115%. No diário de Hong Kong South China Morning Post, Dan Wang, diretor do grupo de reflexão Eurasia Group, estima que as margens dos exportadores chineses para Estados Unidos são de “30 a 40%”.
Assim, embora a escalada de Trump possa soar forte para a sua comunicação anti-chinesa, do ponto de vista da República Popular não muda muito. “Quer as tarifas sejam de 70% ou mesmo de 1000%, não faz grande diferença, porque a estes níveis a China está impedida de negociar com os Estados Unidos”, observa Dan Wang. E como esta situação já estava criada com as “tarifas recíprocas” de 2 de abril, a China não tem razões para fazer concessões.
Na realidade, Pequim já não tem mais nada a perder. O mercado americano está de facto fechado aos produtos chineses. Uma concessão a Washington não traria nada à China. Por isso, seria preferível romper as relações económicas diretas entre os dois países. A ameaça de Donald Trump de cessar todas as negociações a partir de 9 de abril não passa de mais um discurso: as discussões terminaram assim que os Estados Unidos consideraram os 34% adicionais como um nível “justo e equilibrado”.
Que respostas para Pequim?
Assim, os Estados Unidos já não têm como objetivo uma simples “dissociação”, mas sim uma rutura total. Esta foi provavelmente a maior surpresa para o governo chinês, que estava mais preparado para uma aceleração da dissociação. Mas uma vez efetuada a rutura, Pequim só pode manter uma posição firme. Na terça-feira, 8 de abril, o Ministério do Comércio chinês declarou que iria “lutar até ao fim”.
Na guerra comercial total que se desencadeou, a lógica é prejudicar a economia do outro e não simplesmente “defender-se”. Pequim poderia, portanto, procurar pontos fracos na economia americana.
Um deles é a dependência dos Estados Unidos dos fluxos financeiros estrangeiros. Há muito que a China está a reduzir a sua exposição aos títulos do Tesouro dos EUA. O seu stock caiu de 1,2 biliões de dólares em 2015 para 759 mil milhões de dólares em dezembro de 2024. Ao mesmo tempo, nos últimos cinco meses, o Banco Popular da China (PBoC), o banco central do país, tem estado a comprar ouro para aumentar as suas reservas.
Também aí, a mensagem é clara: a China está em vias de desdolarização. O movimento é gradual, porque Pequim não tem interesse em derrubar o mercado de obrigações dos EUA, mas é claro. Ocasionalmente, isto pode até travar a redução das taxas de juro federais que Donald Trump afirma estar a visar com a sua política comercial.
Em termos comerciais, os Estados Unidos terão um défice de 295,4 mil milhões de dólares com a China em 2024. À primeira vista, os consumidores e os produtores americanos têm grande necessidade de produtos chineses. É claro que, em muitos casos, é possível adquiri-los noutros locais, muitas vezes a preços mais baixos. Mas, para certos produtos, os Estados Unidos precisam da China.
É o caso, nomeadamente, dos metais críticos, muito necessários às empresas tecnológicas, óticas e de saúde. Mesmo que os locais de produção de semicondutores fossem transferidos para os Estados Unidos, estes metais, 70% dos quais são produzidos na China, teriam de continuar a ser utilizados.
A 7 de abril, Pequim anunciou condições de exportação mais rigorosas para sete metais críticos: samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. A partir de agora, as autoridades chinesas terão de dar luz verde às exportações e, para tal, as empresas em causa “não devem exercer atividades contrárias à soberania chinesa”. Pequim prometeu não “perturbar as cadeias de valor”, mas esta é uma espada de Dâmocles que paira sobre os grupos americanos.
Importações de produtos chineses nos Estados Unidos © FRED Reserva Federal de Saint-Louis
Pequim deveria também visar as exportações mais rentáveis dos EUA para a China. Numa publicação num blogue na segunda-feira, 7 de abril, Ren Yi, uma pessoa próxima do Governo chinês, descreveu as possíveis respostas. A primeira poderia envolver a utilização de quotas sobre a soja e outros produtos agrícolas, como as aves de capoeira. Mas o grosso da retaliação deverá incidir sobre os serviços. Os Estados Unidos exportam serviços no valor de 91,6 mil milhões de dólares, com um excedente de 27,3 mil milhões de dólares.
Os grupos de consultoria e financeiros dos EUA têm uma forte presença na China e poderão ser excluídos dos contratos públicos, ou seja, de uma parte muito ampla do mercado chinês. As retaliações poderiam também afetar a indústria do entretenimento de Hollywood. Por último, existe a possibilidade de regulamentar as empresas tecnológicas e a utilização da propriedade intelectual.
Mas o cerne da batalha será, sem dúvida, outro. A China tem um excesso de capacidade industrial que tende a agravar-se. É um risco que o país pode tentar contornar reforçando o seu controlo sobre outros mercados que não os dos Estados Unidos.
O risco de deflação
É evidente que Pequim poderia sentir-se tentada a despejar os seus produtos no resto do mundo a preços reduzidos. Isto não só resolveria o seu problema de excesso de capacidade, como também lhe permitiria criar futuros mercados cativos, reduzindo a concorrência global a cinzas. Esta estratégia começou já no ano passado e só pode acelerar. O resto do mundo poderia assim ser a vítima colateral da guerra sino-americana, com o risco de exportação da deflação chinesa.

É, sem dúvida, neste contexto que deve ser entendida a decisão do banco central chinês de terça-feira, 8 de abril, de reduzir a taxa central do yuan. Pela primeira vez desde setembro de 2023, o PBoC fixou a taxa média da sua moeda, em torno da qual permite um movimento de mais ou menos 2%, abaixo de 7,2 yuan por dólar. É um pequeno movimento, mas envia uma mensagem: a China está preparada para deixar a sua moeda enfraquecer.
Em 2018, Pequim contrabalançou o efeito das tarifas de Washington com uma desvalorização de 15% do yuan. Desta vez, a desvalorização terá outra função: encorajar uma ofensiva comercial contra o resto do mundo, numa tentativa de compensar a perda do mercado americano. No entanto, esta opção será tratada com cuidado, porque a estabilidade financeira chinesa é uma prioridade para o Governo, que está a tentar atrair investidores internacionais.
Na realidade, como sublinha Robin Xing, economista-chefe da Morgan Stanley, ao Financial Times, “a magnitude da desvalorização do yuan dependerá da evolução das tarifas dos outros países”. A lógica seria a seguinte: se os concorrentes asiáticos da China negociassem uma política favorável com os Estados Unidos, a China poderia acelerar a queda do yuan para ganhar terreno nesses mercados.
O desafio do Sudeste Asiático
Globalmente, uma das principais frentes desta guerra comercial será a Ásia, e o Sudeste Asiático em particular. Há anos que os grupos chineses recorrem a estratégias de friendshoring para contornar as tarifas americanas, ou seja, deslocalizam a produção destinada aos Estados Unidos para países amigos destes. Washington está ciente desta estratégia e as relações comerciais com a China podem muito bem estar no centro das próximas negociações.
Na segunda-feira, dia 7 de abril, o conselheiro comercial de Donald Trump, Peter Navarro, considerou “insuficientes” as propostas do Vietname para reduzir a taxa de 46% imposta ao país a 2 de abril. No entanto, Hanói ofereceu-se para levantar todos os direitos aduaneiros sobre os produtos americanos e comprometer-se a comprar mais. Isto sugere que a Casa Branca poderá ter mais exigências políticas, incluindo o corte dos laços económicos com a China.
Washington quer, sem dúvida, voltar a transformar o Sudeste Asiático numa região “pré-Estados Unidos”, como parte da sua estratégia para causar o máximo de danos à China, dada a importância crucial da região para a República Popular. Os países da região, por seu lado, encontram-se entre a espada e a parede, tendo de escolher entre a preservação do seu acesso ao mercado americano e a salvaguarda dos seus laços com a China, frequentemente um investidor-chave e cliente principal.
Em ambos os casos, existe um risco de subjugação. Mas isso também é um sinal de que entrámos numa guerra total: as posições de meio-termo que os governos vietnamita, malaio e indonésio tentaram estabelecer durante quase uma década tornaram-se insustentáveis.
Há uma última incógnita. Pequim optou por reorientar a sua economia para o consumo, para compensar a perda do mercado americano. O êxito deste delicado projeto determinará em parte o resultado do conflito. Se for bem sucedido, o mercado chinês poderá tornar-se um dos mais dinâmicos do mundo. Seria então uma alavanca para desviar os produtores de bens de consumo do mercado americano, mais maduro mas naturalmente menos dinâmico, sobretudo se o país entrar em recessão.
No entanto, o acordo não está concluído. No início de abril, as condições de crédito foram facilitadas, mas os consumidores continuam cautelosos, uma vez que a situação económica global da China continua a ser delicada, especialmente com a persistência da crise imobiliária.
Pequim está a considerar abertamente uma aceleração da sua política, com medidas orçamentais e monetárias. Tudo isto deverá pesar quase naturalmente sobre o yuan. Mas se o consumo continuar demasiado fraco, o regime chinês terá dificuldade em evitar o aumento do desemprego, o que o colocaria diretamente em risco. É esta a essência da ação de Donald Trump: ao enfraquecer o crescimento chinês, a Casa Branca visa o regime de Pequim. Trata-se de um objetivo político e é, sem dúvida, a carta que joga nas negociações com os vizinhos da China.
No entanto, é difícil imaginar que o regime chinês não tentará reagir. Inevitavelmente, o seu enfraquecimento político será acompanhado pela tentação de embarcar numa corrida nacionalista precipitada, cujo resultado é a ocupação de Taiwan. Se a política de Donald Trump significa que Pequim não tem de facto mais nada a perder, então é um caminho extremamente perigoso a seguir.
Esta guerra comercial total não é, portanto, episódica. Trata-se de uma luta em que o objetivo é enfraquecer fundamentalmente a outra parte. Nisto, ultrapassa a mera interação entre direitos aduaneiros e comércio. Envolve a paz mundial.
Romaric Godin é jornalista do Mediapart especializado em macroeconomia, foi correspondente do La Tribune na Alemanha entre 2008 e 2011. Artigo originalmente publicado no Mediapart.