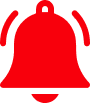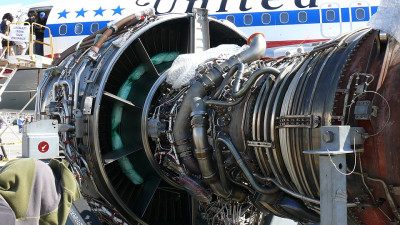O primeiro livro americano com a palavra “Sociologia” no título foi Sociology for the South (1854), do anti-abolicionista George Fitzhugh, da Virgínia. Este foi um dos muitos artigos desse período que procuravam defender a economia, a política e a moralidade da escravatura. Escrevendo sob o subtítulo “O Fracasso da Sociedade Livre”, Fitzhugh fez uma denúncia em roda livre e de total má-fé dos estados do Norte, da sua economia política, da sua moral alegadamente decadente e da sua devoção a todas as falsas liberdades do capitalismo industrial.
Pintar este quadro cru, por sua vez, permitiu a Fitzhugh fazer a afirmação central do seu livro: todos os fracassos da sociedade livre do Norte existiam como o espelho oposto de uma escravocracia sulista que Fitzhugh considerava ser o melhor de todos os mundos possíveis. Enquanto outros ideólogos sulistas defendiam o argumento limitado de que as decisões sobre a escravatura deviam ser deixadas aos estados individuais, Fitzhugh passou à ofensiva e disse que todos os estados – tanto do Sul como do Norte – deviam adotar a escravatura e a sua ordem social alegadamente harmoniosa. A escravatura curaria o Norte de todos os males sociais que o trabalho capitalista livre lá tinha criado.
Mesmo na altura, este era um argumento bizarro. Não é claro se até o próprio Fitzhugh acreditava nele. As suas afirmações sobre o Norte foram fabricadas por atacado e baseadas em conjeturas selecivas; Fitzhugh só visitou efetivamente qualquer estado do Norte depois do sucesso do livro. O seu segundo livro, Cannibals All! Or Slaves Without Masters, publicado três anos mais tarde, contradiz diretamente grande parte do trabalho anterior. Na altura como agora, o ultraconservadorismo americano assenta numa base de argumentos de má-fé, afirmações ilógicas, retórica absurda e pura e simples estranheza. No entanto, a superfície de Fitzhugh partilhava uma outra caraterística fundamental com os seus colegas conservadores: era viciado em Karl Marx (e, tal como os viciados mais incorrigíveis, negava perpetuamente esse facto).
A única biografia dedicada a Fitzhugh parte do princípio de que as afirmações sobre os fracassos da sociedade capitalista “livre” devem ter resultado diretamente da leitura de O Manifesto Comunista, publicado em 1848. Mesmo que isso não seja bem verdade – o Manifesto não era um texto facilmente acessível na Virgínia dos anos 1850 – não deixa de ter havido uma influência aí. A única coisa que se aproximou de uma verdadeira investigação e que serviu de base ao livro de Fitzhugh foi uma leitura atenta da imprensa abolicionista do Norte e, nas páginas do New-York Daily Tribune de Horace Greeley, Fitzhugh quase de certeza leu e absorveu o trabalho do (in)famoso correspondente europeu deste diário.
As críticas armadas de Fitzhugh ao Norte inspiraram-se no socialismo, mesmo quando o fez para defender um Sul que Marx sabia ser muito pior do que as sociedades “livres” a norte do rio Ohio. Como revela o novo livro de Andrew Hartman, Karl Marx in America, o espetro do filho predileto da Renânia tem assombrado os americanos desde o início.
O próprio Marx tinha uma curiosidade sobre a América, presente em grande parte dos seus escritos económicos; tanto o Manifesto Comunista como O Capital incorporam regularmente os desenvolvimentos americanos, incluindo a escravatura, nas suas análises mais amplas do capitalismo (o que Hartman chama a “dialética Marx-América”). E, no entanto, estas obras económicas permaneceram em grande parte por descobrir durante a vida de Marx.
Por outro lado, os seus escritos mais curtos para o New-York Daily Tribune, oferecendo opiniões sobre uma série de questões na Europa e no Império Britânico, atraíram um público muito maior. Marx tinha seguidores americanos mesmo antes de ter uma grande base europeia. Também tinha detratores; já na década de 1870, os medos vermelhos proto-macarthistas agarravam-se a Marx como uma figura de ódio conveniente; o maior agitador estrangeiro cuja interferência nefasta poderia explicar todo o descontentamento interno. Marx morreu em 1883, mas a sua imagem, a sua memória e certas ideias construídas sobre ele continuaram a ter longas carreiras póstumas.
Admiradores e Críticos
O livro de Hartman cose dois fios narrativos: as obsessões da direita com Marx, que são em partes iguais paranoicas e imprecisas, e um desejo da esquerda de trazer Marx “para casa”, para a América. Esta última narrativa é essencialmente a história do socialismo americano e das formas como as vertentes divergentes da esquerda – utópica vs. científica, reformista vs. revolucionária, nascida no estrangeiro vs. doméstica, aberta e democrática vs. doutrinal e ditatorial, determinista de classe vs. quase interseccional, trotskista vs. Estalinista – todas elas retrabalharam e redistribuíram diferentes versões de Marx para os seus próprios fins (embora, como mostra Hartman, os seus seguidores, então como agora, permaneçam presos pelas mesmas divisões debilitantes). Embora os conservadores continuassem a viver com medo dele, Marx tinha claramente já criado raízes na vida intelectual americana no início do século XX, e a sua presença iria aumentar e diminuir nas décadas seguintes.
No pós-Primeira Guerra Mundial, a repressão do bolchevismo nacional funcionou a par, e através, da supressão de Marx; “A idade de ouro do socialismo americano foi exterminada por um Estado de segurança nacional nascente que era anti-marxista por definição”, escreve Hartman. Os auto-nomeados herdeiros de Marx também causaram os seus próprios estragos, incluindo a si próprios. O nascente Partido Comunista Americano (CPUSA) adotou por atacado as estruturas partidárias secretas e propensas a conspirações do czarista tardio Partido Operário Social-Democrata Russo, acrescentando as lutas de fações e as purgas dos bolcheviques pós-Revolução. “O bolchevismo nunca se adaptou bem aos Estados Unidos”, reconhece Hartman, mas à medida que o comunismo americano se ossificava numa rigidez antidemocrática, não havia meios internos para o partido corrigir esta situação.
Foram os fracassos maciços do capitalismo norte-americano após 1929, alheios a quaisquer ações do CPUSA, que reavivaram Marx na América. Hartman traça um florescimento do marxismo intelectual na década de 1930; a “perspetiva peculiar” do teólogo Reinhold Niebuhr, em Moral Man and Immoral Society, de 1932, e de Sidney Hook, em Towards the Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation, em 1936, partilhavam o desejo de ir além de um liberalismo moribundo, incapaz de lidar com as realidades da Depressão. Black Reconstruction, de W. E. B. Du Bois, em 1935, e Black Jacobins, de C. L. R. James, em 1938, utilizaram metodologias marxistas para rever brilhantemente a história dos negros; o facto de estas serem algumas das únicas obras do marxismo americano da era do New Deal ainda em circulação diz muito sobre a sua qualidade superior, mesmo que na altura fossem demasiado negras para muitos marxistas e demasiado marxistas para a corrente dominante.
O renascimento da década de 1930 não durou muito; Hook abandonou o marxismo e mudou-se para o centro, enquanto Niebuhr – que nunca tinha sido marxista – andou numa linha ténue entre o pacifismo e o anti-comunismo liberal. O facto de a Guerra Fria ter posto a faca no marxismo americano não é novidade para ninguém. Mais surpreendentes são as inúmeras formas como os ideólogos conservadores não podiam deixar de olhar para Marx.
O filósofo moral Russell Kirk criticou Marx no seu livro mais famoso, The Conservative Mind, de 1953; Kirk não parece ter lido realmente Marx e inventou citações e descreveu-lhe mal as ideias, num esforço para associar o New Deal ao marxismo. O marxismo que existe dentro das cabeças dos conservadores americanos é sempre mais assustador do que o marxismo americano realmente existente. Hartman observa também a inveja que os conservadores americanos sentiram muitas vezes quando pensavam em Marx; também eles ansiavam por ter teóricos poderosos que pudessem estar à frente de movimentos políticos revolucionários. Outras emoções pareciam também estar em jogo; uma repulsa por Marx e uma incapacidade de deixar de olhar para aquilo que alegavam que os repugnava.
Desde Fitzhugh até hoje, o conservadorismo americano construiu visões falsas de sociedades inimigas – os pecaminosos estados do Norte, a União Soviética, os “países de merda” e as grandes cidades controladas pelos democratas – mas depois não consegue parar de olhar para os destroços imaginários nos seus próprios espelhos retrovisores. As visões conservadoras do que Marx disse (ou do que eles pensam ou gostariam que ele tivesse dito) são ingredientes fundamentais disso. Hartman termina com uma rápida panorâmica das principais obras e figuras-chave do marxismo americano do final do século XX e início do século XXI: Raya Dunayevskaya, William Appleman Williams, Angela Davis, Fredric Jameson, Cedric Robinson, até ao (re)nascimento do socialismo dos millenials. O marxismo real, com coisas reais para dizer, existe ao lado do Marx imaginário dos seus inimigos.
Objeto estranho
A base das leituras conservadoras de Marx é que este teórico alemão é sempre um implante demasiado estrangeiro para o solo americano. A ironia é que esta mesma afirmação sobre a “estrangeiridade” de Marx é feita em todos os sítios onde o marxismo se enraíza. O reverso do internacionalismo socialista é que os conservadores do mundo se unem através do seu desejo de expulsar sempre Marx das suas respetivas nações. Mesmo nos lugares onde o marxismo se instalou claramente, parece que continua a ser demasiado estrangeiro (ou uma relíquia supostamente irrelevante do século XIX) para ser bem-vindo ou necessário. O próprio Hartman está a tentar desfazer isso, a fim de mostrar que Marx e o marxismo conseguiram, de facto, espaço para si próprios nas tradições políticas americanas.
Ao fazê-lo, porém, aproxima-se de construir aqui um Marx excecionalista americano, um Marx para quem a América era o país mais singular e importante do mundo (minimizando o quanto primeiro a Alemanha, e depois a Grã-Bretanha e a Irlanda, importavam muito mais). Que “Karl Marx tinha pensamentos sobre a América” é simplesmente verdade; tal como o seu camarada Joseph Weydemeyer, que tinha fugido da Alemanha para o Missouri, também Marx se sentiu “empurrado para a merda burguesa americana”. O perigo, porém, é apresentar estes “pensamentos” e “merdas burguesas” de forma isolada, criando um marxismo que não tem de ser comparado a outros contextos nacionais.
Os livros recentes sobre Marx oscilam entre apresentá-lo como uma figura singular do século XIX ou como um sábio intemporal cujas ideias são aplicáveis a todos os espaços e tempos da modernidade capitalista. A abordagem de Hartman, desagregando o homem da implantação póstuma das suas ideias posteriores, permite-lhe ficar em ambos os lados dessa divisão. O resultado é um livro astuto e politicamente útil sobre uma vertente vital do pensamento intelectual americano.
Aidan Beatty é professor de História na Universidade Carnegie Mellon. É autor de The Party Is Always Right: The Untold Story of Gerry Healy and British Trotskyism.
Texto publicado originalmente na Jacobin.