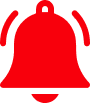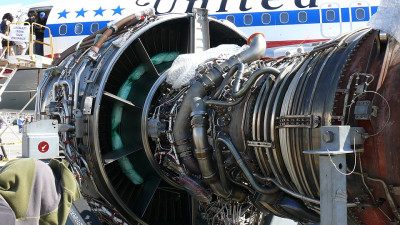A queda do império Volkswagen é também o crepúsculo de uma esperança que há muito agita a esquerda na Europa e nos Estados Unidos: a de regular o capitalismo através da co-determinação. Porque a empresa de Wolfsburgo é o exemplo da forma mais avançada de cogestão do "capitalismo renano", que deveria opor-se à lógica do "capitalismo acionista" anglo-saxónico. Mas o seu fracasso atual, que é um fracasso económico, colocou em causa estas certezas.
A Alemanha tem uma longa tradição de Mitbestimmung, um termo alemão geralmente traduzido por "cogestão", mas que significa mais literalmente "co-determinação". A sua implementação é uma resposta a dois desafios enfrentados pelo capitalismo do outro lado do Reno no decurso do século XX.
A primeira foi o desafio revolucionário que, durante o outono e o inverno de 1918-19, tomou a forma de "conselhos de trabalhadores e de soldados" organizados nos locais de trabalho para assumir o controlo da produção. Para evitar que este método se generalizasse, o Partido Social-Democrata (SPD) obrigou o patronato alemão a aceitar a primeira representação dos trabalhadores nas empresas. No entanto, a lei de 1920 era limitada e a sua aplicação restrita, até ser revogada pelo regime nazi.
Capitalismo "domesticado"
Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental tinha de se apresentar como um exemplo de participação económica democrática, em oposição ao Leste sovietizado. Mas os democratas-cristãos no poder também queriam estabelecer um modelo económico que competisse com o estatismo keynesiano que prevalecia em França e no Reino Unido. Para eles, as nacionalizações deviam ser evitadas. O aumento da participação dos trabalhadores parecia ser uma alternativa atrativa. Tornou-se a pedra angular da noção, então abertamente conservadora, de "economia social de mercado".
A co-determinação foi consagrada na lei em 1952 e alargada em 1976 pelo SPD, que entretanto tinha adotado este modelo empresarial. A partir de então, as empresas com mais de 2000 trabalhadores devem oferecer metade dos lugares no conselho de administração aos trabalhadores. É certo que esta representatividade tem os seus limites, como voltaremos a referir, uma vez que é acompanhada da obrigação de nomear pelo menos um dirigente de entre os representantes dos trabalhadores e de dar prioridade aos acionistas em caso de empate no conselho de administração.
No entanto, a Alemanha era vista como a vanguarda do capitalismo de cogestão, onde os trabalhadores tinham uma palavra a dizer nos assuntos da empresa. Isto é tanto mais verdade quanto, para além da representação nos conselhos de administração, os trabalhadores têm de ser consultados sobre questões salariais e de condições de trabalho através do Betriebsrat, o "conselho de empresa". Por conseguinte, as decisões de gestão são frequentemente objeto de medidas compensatórias, a fim de obter a aprovação do Betriebsrat.
Para os defensores da co-determinação, estes acordos têm várias vantagens. Em primeiro lugar, oferecem uma forma de cooperação entre capital e trabalho baseada num compromisso. Encontramos aqui todas as caraterísticas do pensamento social-democrata que visa criar um "capitalismo domesticado" que se oponha à sua versão neoliberal.
Para além disso, a implicação dos trabalhadores na gestão permitiria ter em conta outros critérios para além do simples lucro da empresa, como o emprego, os salários, as condições de trabalho ou os efeitos ambientais da produção. A co-determinação ao estilo alemão seria, assim, uma forma de capitalismo "stakeholder" que, também neste caso, se oporia à maximização do valor acionista da empresa.
Por último, uma empresa cogerida seria mais eficiente do que uma empresa gerida apenas pelos acionistas, uma vez que a sua gestão iria além do curto prazo para considerar o longo prazo. Num artigo publicado em 2012 na revista Alternatives économiques, o jornalista Guillaume Duval explica por que razão, após a crise de 2008, as empresas alemãs despediram menos trabalhadores do que as empresas francesas, o que lhes permitiu beneficiar mais facilmente da retoma. De uma forma mais geral, ele acredita que esta seria outra explicação para a resiliência industrial da economia alemã.
Um modelo para a esquerda?
Para muitos à esquerda, a cogestão tornou-se um modelo e um ponto de partida. No seu livro de 2019, Capital et idéologie (Le Seuil), Thomas Piketty faz dela um pilar dos seus "elementos para um socialismo participativo no século XXI". "Todos os elementos disponíveis sugerem que estas regras foram um grande sucesso", resume o economista, que acredita que "favoreceram a emergência, na Europa germânica e nórdica, de um modelo social e económico mais produtivo e menos desigual do que os outros modelos experimentados até agora".
Entrevistado pelo Mediapart sobre este assunto, Thomas Piketty sublinhou que, apesar de considerar os limites da co-determinação à alemã, via este modelo como um primeiro passo para a construção de uma nova sociedade. Mas é evidente que, inicialmente, esta co-determinação, por mais imperfeita que seja, apareceu ao economista-estrela como um meio de escapar ao "hipercapitalismo", o termo com que Thomas Piketty descreve a era neoliberal do capitalismo.
Logicamente, a cogestão tornou-se o horizonte de uma parte da esquerda política. Em 2018, alguns senadores democratas dos Estados Unidos propuseram a introdução de 33% a 40% de representantes dos trabalhadores nos órgãos de direção das grandes empresas, com base no modelo alemão. Mais recentemente, no programa da Nova Frente Popular (FNP) para as eleições legislativas de junho de 2024, foi apresentada a proposta muito modesta de "tornar os trabalhadores verdadeiros atores da vida económica, reservando-lhes pelo menos um terço dos lugares nos conselhos de administração e alargando o seu direito de intervenção na empresa". Prova de que a cogestão na sua versão mínima (a dos democratas-cristãos alemães dos anos 50) é hoje a referência da esquerda francesa e de uma grande parte da esquerda ocidental.
Ora, a Volkswagen é um exemplo muito avançado de co-determinação ao estilo alemão. A empresa cumpre a regra acima referida, mas tem também uma forte prática de colaboração entre a direção e o sindicato IG Metall. O exemplo mais conhecido é o acordo de 1994, que acaba de ser denunciado pela direção, e que previa garantias de segurança no local de trabalho em troca de uma contenção salarial.
Mas o grupo de Wolfsburgo vai para além da regra comum alemã. A sua “Carta de Relações Laborais” de 2009 reforça os direitos à informação, comunicação e co-determinação dos trabalhadores através do IG Metall. Proclama que “as partes envolvidas a nível operacional devem ter uma abordagem de confiança, coletiva e construtiva para alcançar o sucesso económico, a segurança do emprego e o bem-estar dos trabalhadores”. Para isto, a direção e os sindicatos comprometem-se a “aderir a uma política de consenso social”.
Por último, este compromisso de co-determinação é reforçado pelo controlo público. Uma lei de 1960, finalmente validada pelo Tribunal de Justiça Europeu em 2009, confere uma minoria de bloqueio ao Land da Baixa Saxónia, que detém 20,2% dos direitos de voto do grupo. Este Land é atualmente dirigido por uma coligação de sociais-democratas e verdes, pelo que o seu governo é próximo do sindicato. Mas, sublinhe-se, quando a direita esteve no poder, entre 2003 e 2013, a abordagem do Land não foi muito diferente. De facto, foi a coligação CDU-FDP que garantiu a confirmação da “lei VW”, face aos ataques da Comissão Europeia.
A ausência de um verdadeiro contrapoder
Em suma, a Volkswagen é vista por muitos como um modelo de co-determinação. Mas, na realidade, as vantagens deste modelo colocam uma série de problemas. O primeiro é o facto de o contrapoder formal dos trabalhadores e do Land não ter sido capaz de impedir e alertar para a evasão à lei das emissões, conhecida como “Dieselgate”.
Num artigo publicado em 2017, Nicola Sharpe, jurista da Universidade de Illinois, mostrou como os controlos e equilíbrios formais da Volkswagen não foram exercidos neste caso específico. Na realidade, o poder dentro do grupo continua concentrado nas mãos do principal acionista, a família Porsche-Piëch, e da administração. A presença de um conselho de supervisão, metade do qual é composto por trabalhadores, nunca reduziu a forte centralização do poder. “O conselho de supervisão só existia para o espetáculo”, afirmou na altura um executivo.
Para Nicola Sharpe, “o conselho de supervisão estabeleceu as disfunções e cumplicidades que permitiram o escândalo e adotou uma política centralizada a partir dos comités de empresa que não conseguiu evitar o escândalo”. Por outras palavras, o sindicato passou um cheque em branco à direção em troca de certas concessões aos trabalhadores. É esta a face oculta da “co-determinação”, que se traduz muitas vezes por um conluio com a direção e permite a esta última governar sem uma verdadeira oposição.
O que é verdadeira para o escândalo Dieselgate também é verdadeiro para a gestão económica. Os representantes do IG Metall ficaram indignados quando descobriram os planos da direção para encerrar três fábricas na Alemanha e suprimir 10% dos efetivos. Mas estes planos são a consequência da sua complacência face às decisões tomadas por uma direção que se manteve profundamente presa a esquemas cada vez mais ultrapassados.
Em contraste com a teoria e a comunicação que veem a co-determinação como uma forma de “compromisso” entre o trabalho e o capital, há uma outra interpretação que emerge dos vários fracassos da Volkswagen. Trata-se de uma continuação do domínio do capital sobre o trabalho, em troca de um preço “razoável” pago por este último.
Neste contexto, o sindicato da Volkswagen não parece constituir um verdadeiro contrapoder. Nicola Sharpe resume a atitude dos dez representantes do IG Metall no conselho de supervisão da VW da seguinte forma: “são todos trabalhadores alemães que estão tradicionalmente alinhados com as posições da direção e que apreciam a importância da Volkswagen para a economia alemã”. Por conseguinte, raramente contestam as opções da direção.
Por outras palavras: o fracasso da direção, que é evidente, é também o fracasso da co-determinação sob a batuta do IG Metall. O jurista considera mesmo que a estrutura alemã não oferece mais garantias do que a estrutura anglo-saxónica contra uma gestão a curto prazo e centrada no lucro.
Para além disso, o famoso acordo de 1994, que encarnou o “sucesso” desta co-determinação, foi altamente problemático. Conduziu a uma moderação salarial generalizada, que enfraqueceu a posição do mundo do trabalho na Alemanha. Quando Gerhard Schröder, com a sua coligação SPD-Verdes, lançou a sua Agenda 2010, que visava pressionar os trabalhadores através da liberalização do mercado de trabalho e da redução dos subsídios de desemprego, foi em nome da defesa da competitividade-custo incarnada pelo sucesso da Volkswagen. Note-se, de passagem, que a crise da zona euro do início dos anos 2010 é a consequência última desta opção de “desinflação competitiva” através dos salários, que o grupo de Wolfsburgo tinha iniciado vinte anos antes.
A ilusão do compromisso entre trabalho e capital
Globalmente, o destino da Volkswagen, mas também mais geralmente o naufrágio da indústria alemã, vieram contradizer a interpretação “pikettista” segundo a qual a participação dos trabalhadores na tomada de decisões permitiria melhorar os resultados da empresa e construir uma economia mais “inclusiva” e respeitadora das “partes interessadas”. Mas, apesar de tudo, não é possível subscrever a versão conservadora da crítica da co-determinação, que considera que a participação sindical reduz os lucros, favorecendo a parte redistribuída e impedindo qualquer adaptação estratégica.
No caso da VW, a direção deu prioridade aos lucros com a cumplicidade passiva dos sindicatos, que subscreveram a doutrina do capital segundo a qual a rentabilidade das empresas é uma garantia do bem-estar dos trabalhadores. Durante muito tempo, a rendibilidade da Volkswagen beneficiou do compromisso social e a direção manteve as suas receitas tradicionais sem que os assalariados lhe encontrassem falhas.
A moral desta história é evideente: a democracia empresarial no contexto da atual organização social é um engodo. Sob o pretexto de participação, temos muitas vezes apenas a validação de uma posição de gestão centrada na procura da maximização da rentabilidade. Não há nada de surpreendente nisto: acima do poder dos vários órgãos de gestão das empresas, há um poder mais irresistível, o da acumulação de capital.
A ilusão de que o compromisso entre capital e trabalho pode conduzir a uma nova economia esquece que, no capitalismo, as relações sociais são invertidas, ou seja, são mediadas por mercadorias, que estão elas próprias sujeitas à necessidade de acumulação de capital. Por conseguinte, qualquer compromisso capital-trabalho tem lugar nestas condições, ou seja, sob o controlo das exigências do capital.
Pode acontecer que esta exigência tolere ou até mesmo favoreça os compromissos. Mas estes são frequentemente temporários e estão sempre sujeitos à manutenção de um ritmo de acumulação elevado. Quando este ritmo é posto em causa, as condições de compromisso desaparecem, independentemente da estrutura de decisão da empresa.
As mesmas limitações aplicam-se à participação política. Qualquer que seja a cor política do Land da Baixa Saxónia, este nunca pôde exercer a sua influência para corrigir as opções da direção. Também neste caso, a prioridade é dada à “saúde económica” da empresa, frequentemente identificada com as escolhas da direção. As autoridades políticas não são exceção a este fetichismo da mercadoria.
Tudo isto não quer dizer que a democratização da produção seja inútil e vã. Pelo contrário, pode ser uma poderosa alavanca de transformação, desde que se realize no quadro de um questionamento das relações sociais invertidas e de uma contestação total da ordem económica. Isto significa construir uma crítica que ultrapasse a crítica única do capitalismo centrada no valor acionista. Porque qualquer compromisso entre o capital e o trabalho é, a mais ou menos longo prazo, uma ilusão.
Romaric Godin é jornalista do Mediapart especializado em macroeconomia, foi correspondente do La Tribune na Alemanha entre 2008 e 2011. Texto publicado originalmente no Mediapart. Traduzido por Carlos Carujo para o Esquerda.net