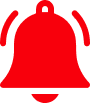O mote que me fez estar presente no Fórum Socialismo deste ano, o maior de sempre, foi: Senhores de Si? Outras masculinidades…
Partilhei a mesa com o Tiago Rolino. Eu escrevo histórias. Ele investiga comportamentos.
Decidimos pensar sobre este tema a partir de histórias. Todas verdadeiras. As crianças dizem-me que são sempre as melhores.
Partimos de episódios vulgares para pensar a sério sobre as amarras, ainda muito pesadas, de uma sociedade patriarcal, marcada pela censura de 48 anos de ditadura e pelo peso da culpa que a Igreja Católica ainda traz.
Há muito que a palavra homem é vestida de ferro. Por hábito.
Penso em séculos de cultura que a moldaram como armadura: músculos, silêncio, autoridade. E dentro dela muitos aprenderam a caminhar direitos, mesmo quando o peso os vergava.
E quando as armaduras partem ou racham, descobrem-se nas fissuras outras formas de ser, discretas ou clandestinas, como o pai que embala ou troca uma fralda, o amigo que chora. São masculinidades que ouvem, que não berram, que não erguem muros mas, pelo contrário, que abrem clareiras.
Notamos que os papéis de género são ouvidos e distinguidos já nas barrigas das mães, antes de nascerem, como lembrou Tiago Rolino. A primeira pergunta que fazemos a uma grávida é: menino ou menina? E a voz baixa o tom, de imediato, se for menina, e enche-se de entusiasmo se for rapaz.
E o crescimento destes bebés, meninos e depois rapazes, ainda se molda a frases como “um homem não chora”, “não sejas maricas” ou “tu és forte”. Um menino que apresente sensibilidade é olhado com estranheza. Ainda.
Talvez por isso sejam tão reveladores os desenhos das crianças. Quando lhes pedimos para desenhar “um pai”, tantas vezes surge um homem de fato e gravata. A mãe, de avental ou ao lado de um fogão. Ainda se surpreendem quando veem um pai cozinhar, pentear cabelos ou tratar das mochilas. Nesse espanto infantil revela-se o que, silenciosamente, a sociedade ainda dita.
Mas as crianças também sabem reinventar. Quando lhes conto histórias de rapazes que cuidam ou que se apaixonam sem medo, ouço a surpresa a transformar-se em naturalidade. São os adultos que estremecem. Recordo-me bem das reações ao meu livro O Pedro gosta do Afonso. Não foram as crianças a temer a ternura, foram os adultos que tremeram diante dela. Como se a liberdade pudesse ser contagiosa.
Queremos homens que não “ajudem” em casa, mas que tenham a mesma responsabilidade sobre ela. Queremos homens com a mesma voz que as mulheres. Queremos…
Na verdade, estamos ainda longe de permitir que o pai cuide tão bem quanto a mãe, ou que saiba escolher a roupa que os filhos vão precisar, preparar o lanche da escola, estar presente nas consultas ou ir às reuniões.
A transformação de paradigma demora. Continuamos a achar querido, quase inclinamos o pescoço embevecidos, diante de um pai sozinho com filhos num supermercado, num parque ou num consultório médico.
Não se trata de inverter papéis, nem de romantizar a história. Trata-se de desabitar a norma. De libertação.
A pele masculina não tem que ser única. Há uma pluralidade de possibilidades que podem agregar justiça e ternura, sensibilidade e força.
E, talvez, o maior legado que podemos deixar seja este: um menino que aprende a cuidar, a chorar sem vergonha, a abraçar sem medo. A vulnerabilidade como herança. Porque isso não o enfraquece — amplia-lhe a humanidade.
As outras masculinidades chegam sem modelo pronto, abrem questões mais do que fecham respostas: que lugar damos ao cuidado? Que nome damos ao medo? Como reconciliamos força e fragilidade sem que uma anule a outra?
São perguntas abertas como caminhos que ainda não sabemos onde levam. Mas sei que o ferro pesa e desprender o ferro pode ser um ato libertador. Descobrir que ser homem pode ser também ser permeável, aberto, poroso.
E que nessa porosidade — onde cabem lágrimas, abraços e gestos de cuidado — pode caber, finalmente, a liberdade.